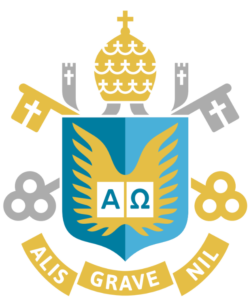Autor de “Arrabalde” propõe ações para estancar desmatamento e valorizar protagonismo ambiental e cultural da Floresta
Joana Macedo
A Floresta Amazônica se destaca como um expressivo polo de biodiversidade. Reúne 20% da água doce mundial, 40 mil espécies vegetais, milhares de espécies animais, entre peixes, aves, mamíferos, anfíbios, répteis, fora os 130 mil tipos de invertebrados reconhecidos.
Acima dos números que a retratam, tamanha exuberância exerce um papel vital para a regulação do clima e da chuva no planeta. O protagonismo ambiental alinha-se decisivamente à urgência de conter o aquecimento global e seus impactos devastadores. Portanto, o combate às queimadas e desmatamentos ilegais na região deve tornar-se uma prioridade coletiva, matriz de uma política pública transpartidária. Assim reiteram lideranças como o documentarista e empresário João Moreira Salles, autor de “Arrabalde” (Companhia das Letras, 2022), panorama acurado e múltiplo da maior floresta tropical do planeta.
Com a autoridade de quem se aprofundou no tema e mergulhou dois anos nas dinâmicas amazônicas, ele ressalta que a premência em preservar esse patrimônio ecológico e sociocultural exige uma mobilização mais incisiva do Brasil. O alerta percorreu as imagens e palavras compartilhadas com estudantes de Comunicação da PUC-Rio, em palestra no fim do ano passado. Boa parte delas perpassa o livro no qual aprofundados relatos gritam a importância crucial da floresta aos rumos do país e do mundo.
Tal reconhecimento é progressivamente enfatizado nas conferências das Nações Unidas sobre as mudanças climáticas, desde a Rio 92 até a COP 28, ano passado, em Dubai. É necessário expandi-lo e convertê-lo em iniciativas que estanquem a exploração desordenada e criminosa da Amazônia, enfatiza João, num breve papo depois da palestra. Para o especialista, o desafio envolve, entre outras dificuldades, a valorização da cultura amazônica, suas tradições, suas histórias, suas vozes, seus olhares.
A exploração desordenada da Amazônia deriva de um afastamento premeditado da sua realidade sociocultural?
É possível observar uma tendência, desde o começo da colonização do Brasil, de exploração das riquezas da Floresta Amazônica, limitando sua função exclusivamente à retirada de matérias-primas. O processo se assemelha à Alegoria do Destino Manifesto, utilizada durante a chamada conquista do Oeste nos Estados Unidos. Ali, a população originária foi taxada de selvagem para legitimar diversas intervenções, principalmente em busca de uma modernização no estilo de vida da região. Esse discurso de superioridade culminou no descarte da preservação da cultura e no investimento em práticas voltadas para o lucro, como a agropecuária e o garimpo. A maioria da população não se vangloria de co-habitar o maior centro climático do mundo, e encara a floresta como uma fonte de demanda de recursos.
Qual a relação do imaginário de progresso com a marginalização da Floresta?
A associação do progresso à tecnologia invalida a inteligência ecológica de povos indígenas, e promove um desapego à defesa de práticas sustentáveis. Os estudos sobre a complexidade na fauna e flora da Floresta Amazônica foram substituídos por projetos de industrialização e urbanização. Esse processo descaracteriza a região, com a premissa enganosa de evolução. Ele promove até uma substituição da cultura local, ao valorizar a criação de gado e todas as tendências musicais e culinárias acima dos povos indígenas e suas tradições.
De que forma podemos trazer a Amazônia para o centro dos debates sobre mudanças climáticas e preservação cultural?
É preciso promover a integração da cultura local com a identidade do país. Durante o regime militar, por exemplo, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) promovia diversas propagandas que vilanizavam o verde da Região Norte, como um obstáculo para o lucro, e indicava o desmatamento para o desenvolvimento da criação de gado. A estratégia utilizada pelo governo americano, na década de 1970, foi engajar o audiovisual do país, com pintores, cineastas e repórteres, e transformar a estigmatização do local pela identificação da população com o “Velho Oeste”. Da mesma forma, é preciso reverter a narrativa de uma Amazônia dependente, para retratar seu protagonismo, sua beleza e complexidade. Esse processo precisa de representantes como a jovem ativista Txai Suruí, que pode advogar pelos interesses dos povos indígenas com maior propriedade, em contato com líderes internacionais.
Que esforços e avanços já caminham neste sentudo?
A preocupação iminente com as mudanças climáticas já são temas de cunho internacional, abordados em discursos políticos e convenções globais. O problema é conseguir traduzir as promessas em iniciativas. Recentemente, a Txai Suruí abriu a fala da COP 26, o que demonstra um interesse dos chefes de Estado em ouvir o que os povos que habitam a região têm a dizer. O investimento de capital estrangeiro, que tem estreitado os laços com o governo brasileiro. também é uma notícia positiva, mas precisa ser acompanho de ações mais concretas em busca da preservação.
Que projetos ou programas de preservação bem-sucedidos podem inspirar esta desejável guinada ambiental e cultural do Brasil em relação à Amazônia?
O Chile é um exemplo, perto do Brasil, que pôs em prática uma mudança na postura com o mercado internacional, por meio de políticas internas. Hoje, são propagados com orgulho projetos verdes e ações em direção à sustentabilidade, como o projeto de transição energética. Por outro lado, é importante lembrar que no, nosso caso, a urgência de restauração é um dever de todos os países, pois afeta o meio ambiente em uma escala global, o que também implica mais dificuldades e burocracia na região.
Você avista um horizonte mais alinhado às urgências climáticas?
Acredito que esse cenário pode ser mitigado, justamente pelo perigo que representa negligenciar os números alarmantes em relação ao clima. Pesquisas como a que aponta os neve limites do planeta (coordenada em 2009 pelo Centro de Resiliência de Estocolmo, indica nove condições para a estabilidade planetária) demonstram as consequências da falta de restrições para exploração, poluição e degradação do ecossistema. A metade desses limites já foi ultrapassada. Estudos assim pautam encontros mundiais, como as COPs, e que precisam estar cada vez mais relacionados a ações práticas, principalmente de fiscalização e contenção dos excessos que ameaçam o planeta.